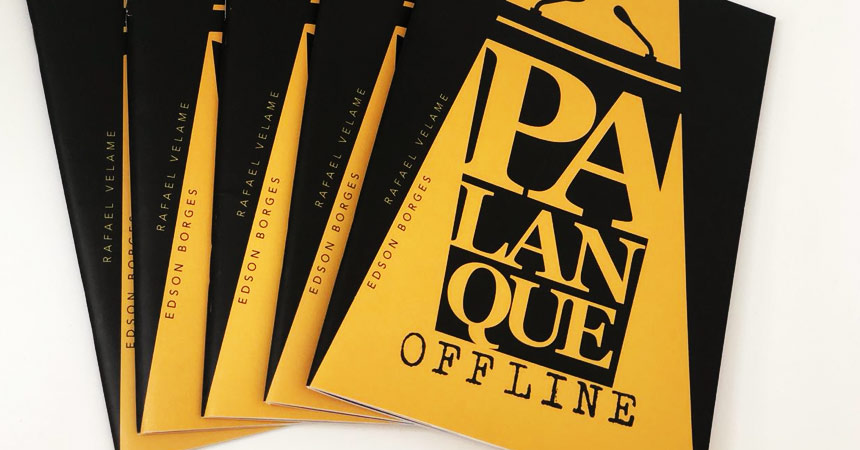De maneira geral, tem-se visto retrospectivas e análises bastante pessimistas sobre o ano de 2016, dadas as crises políticas, econômicas, valorativas e sociais por que o Brasil e o Mundo passam. Esse foi um ano de Impeachment presidencial, prisão de altos figurões da política, eleições inusitadas nos Estados Unidos, ataques terroristas e de uma das maiores tragédias esportivas da história, com a queda do avião da Chapecoense.
Segundo o poeta Ferreira Gullar, que também nos deixou neste 2016 caótico, “a arte existe porque a vida não basta”. Por isso, resolvemos fazer uma memória de 2016 a partir das obras que alguns feirenses influentes apreciaram neste ano, indicando aos leitores criações que tragam mais significado para o ciclo que se finda. Faça bom uso das dicas:
(Leia aqui a primeira parte e a segunda parte dessa série!)
Silvério Duque (poeta e crítico literário)

O poeta e crítico literário Silvério Duque indicou o filme Capitão América: Guerra Civil como obra marcante em 2016. Ele comenta com profundidade como o filme lhe inspirou:
“Meus alunos me perguntam: “Porque não gosto do PT ou de qualquer partido de Esquerda”? Inclua-se também qualquer pensamento ou doutrina semelhante. Costumo responder de forma simples e objetiva: “o PT é um partido de Esquerda, ponto final”. Todavia, décadas de uma educação, e isso se dá nas mais diferentes classes e instituições educacionais de nosso Brasil, voltadas unicamente à dependência das estruturas de poder do estado e suas ideologias, não deixam que essa explicação se faça de modo fácil e contundente como deveria ser, e as explicações estendem-se à medida que as mentes se sujeitam a uma maneira única e rasa de pensar o mundo e a realidade; e quanto mais saliente mostra-se a mente de um indivíduo com relação a essas coisas, compreendemos o quão eficaz é o poder doutrinário de uma educação que transforma indivíduos em lobotomizados.
A verdade é que a Esquerda traz uma promessa maravilhosa, não se pode negar isso; daí a eficácia de sua sedução. É quase como a promessa de um Paraíso cristão, mas aqui mesmo na terra (nada mais herético, diga-se), onde Deus e anjos podem simplesmente ser substituídos por homens, e a graça pode ser alcançada sem os sacrifícios necessários para tanto. É uma maravilha, concordem. O Esquerdismo retira do homem a sua responsabilidade diante da existência, passando-a a um Estado que o representa ao ponto de pensar por ele mesmo… E aí começa o problema de um Jó sem Deus que o Marxismo sempre pretendeu implantar em cada homem existente na terra. O resultado disso não é menos que o caos moral e existencial, criado por um Estado totalitário que recebeu o “nosso” aval para agir descontroladamente, e representar os perigos desse “ato” é o maior trunfo de Capitão América: Guerra Civil (Marvel Studios, USA, 2016): mostrar a força destrutiva de um Estado totalitário, principalmente quando esse estado se mostra benevolentemente dedicado.
Depois de uma ação desastrosa na Nigéria, com dezenas de “efeitos colaterais”, o Secretário de Defesa americano Thaddeus Ross (William Hurt), aquele mesmo que morre de amores pelo Hulk – que, aliás, como todos sabem, não está no filme –, resolve chamar Os Vingadores à razão, mostrar-lhes que, ao redor de suas ações, há vidas humanas inocentes pagando o pato, e faz isso mostrando imagens de suas ações em Nova York, Washington, Nigéria e nas fictícias Sokovia e Wakanda, o que é um belo tapa com luva de pelica tanto para a plateia quanto aos seus colegas diretores, como bem lembrou Isabela Boscov, que “não é correto que cenas de mortandade e destruição em massa sejam usadas para empolgar e fascinar sem que se pese o preço de cada vida tirada ou destruída”, assim como é feito também em Batman vs. Superman, de Zack Snyder, só quem com menos impacto e verossimilhança que os irmãos Anthony e Joe Russo, que dirigem o Guerra Civil. Por isso, a ação d’Os Vingadores, a partir da assinatura do Tratado de Sokovia, já acordado previamente entre 177 países, passará a ser monitorada e comandada pela ONU, e os heróis mais poderosos da terra não mais passarão a agir segundo as suas vontades ou necessidades alheias, ao menos que, como último recurso, sejam chamados a isso.
A notícia cai, como uma bomba, para todos os membros da “iniciativa”, mas principalmente sobre as mentes de seus membros mais antagônicos: Steve Rogers (Chris Evans), o Capitão América e Tony Stark (Robert Downey Jr.), o Homem de Ferro. Não pensem os desavisados e cabeças-ocas que os acontecimentos desencadeados a partir daí é uma mera divergência de opiniões. As questões abordadas são muito mais profundas e verossímeis do que qualquer fã de filmes de super-heróis está acostumado, o que dá ao drama um conflito e o porquê que serão muito bem explorados durantes as quase três horas de filme. Para acrescer, vários embates psicológicos também são travados no filme: a culpa de Tony Stark por ter criado Ultron, e consequentemente todo o estrago que veio com ele; a morte da agente Carter, levando Rogers a um abismo existencial ainda mais fundo; a escolha entre família e dever, por parte do gavião Arqueiro (Jeremy Renner); o dever moral e o espírito de vingança, por parte do Pantera Negra (Chadwick Boseman); sem contar a descobertas e incertezas de Visão (Paul Bettany) e Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), entre outros.
E, por falar em bomba, é justamente um atentado com explosivos, supostamente perpetrado por Bucky Barnes (Sebastian Sten), o Soldado Invernal, que conduz o grupo de heróis a uma divisão que também se faz pelo meramente pessoal. E é aí que Capitão América: Guerra Civil se mostra superior em seus temas e argumentos ao Batman vs. Superman, de Zack Snyder. As motivações que conduzem às amizades cada vez mais fortes, bem como a rupturas desastrosa de outras afeições são muito mais creditáveis e possíveis, além de condizer em muito com a realidade que todo o Mundo viveu durante boa parte do Século XX e ainda vive. Os motivos políticos e as ideologias por detrás de tudo isso não se fazem menos verdadeiros. Ponto para a habilidade dos irmãos Russo em emendar tantas considerações políticas e morais sem nenhum tipo de moralismo, o que explica a dor com que muitos deles se tornam “bandidos”, aos olhos de muitos. E já que a amizade parece ser um tema central em toda a história de Capitão América: Guerra Civil, algumas delas resistem a tudo, como a do Homem de Ferro e o Coronel Rhodes, o Máquina de Combate; a de Rogers e Martim, o Falcão Negro; Visão e Feiticeira Escarlate oscilam em muito; Viúva Negra (Scarllet Johansson) e Gavião Arqueiro só enquanto suas capacidades de serem cínicos lhes são necessárias.
Rogers, imbuído de um forte espírito conservador (não pode esperar algo diferente de um soldado) não aguarda que a realidade se adeque às tentativas de transformá-la, nem muito menos que esta se lhe venha de forma débil e furtiva; ele a busca de forma sagaz e, por isso mesmo, muitas vezes violenta, mas sem perder a razão e nem fazendo dela seu único trunfo. A dicotomia soldado/político se completa com a posição favorável de Tony Stark ao Tratado de Sokóvia, relegando ao estado a tarefa de controle de absolutamente tudo, inclusive a ação de Os Vingadores; o Homem de Ferro, sem nenhum medo de viver e fazer o que tem e precisa fazer, pelo que o conhecemos, parece ser a última pessoa da terra a se iludir com as promessas utópicas de uma política de controle, todavia, como podemos ver nas cenas em que ele visita seus “companheiros” na cela de uma prisão de segurança máxima, Stark tenta até mesmo busca inventar razões para essa crença infundada, num exemplo muito simples, embora bem construído, de como a sedução dos regimes totalitários tem efeito tanto sobre céticos quanto crentes. E, acima das amizades, está a verdade, que nada tem de relativista, pelo contrário, toda vez que ela é aludida as coisas só se encaminham às mais desastrosas consequências.

A grande alegoria que Capitão América: Guerra Civil personifica é a imaginação moral, a única coisa que, de fato, permite-nos distinguir a respeito da pessoa humana, sua ordem, sua alma, seu papel social e sua capacidade em diferenciar o que realmente é bom ou mau, belo e feio, ofertando-nos uma visão geral da natureza humana e das leis que a regem. Somente essa imaginação moral pode nos dar a real ideia do cruel controle dos Estados totalitários em nossas vidas; por isso mesmo é tão combatida pela “educação” que tais Estados totalitários nos “oferecem”. O amor de nossos “educadores” por Paulo Freire, e sua pedagogia de opressão, é um exemplo irrefutável de tudo isso. Tudo que Capitão América: Guerra Civil que nos mostrar é que devemos lutar ao máximo para que nossas liberdades pessoais, ou seja, nossa inteireza, nossa autonomia e nossa nobreza e que elas não sejam reduzidas, quando não destruídas. As liberdades pessoais são a única coisa e meio para fugirmos ao domínio de um Estado totalitário. Steve Rogers é em tudo imbuído desse espírito, Stark ainda está longe disso, mas se matem em boa parte de toda essa saga no caminho certo. E porque isso acontece? Porque inteireza, autonomia e nobreza são conquistas caras, cujo preço é o sofrimento de uma disciplina interior muito rígida em comum acordo com uma consciência reta e perspicaz, o que, para um soldado como Capitão América, é uma questão de fazer o que se tem que fazer pelos motivos certos, e fazê-lo já e em toda a sua inteireza. Rogers não tem tempo para fazer de conta que a realidade pode ser controlada, que o mal é uma questão de mero ponto de vista, e não uma coisa concreta e presente; por isso mesmo, não se dá ao luxo de fazer as coisas certas pelos motivos errados. Tudo isso ainda falta em Tony Stark e, para piorar, ao se deixar abater por uma culpa que não lhe é imputada de fato, decide observar o desalinho mundano como um mero observador, transferindo ao Estado essa responsabilidade que não é de ninguém senão sua. Para sorte de todos, o Homem de Ferro não permanece o tempo todo um candidato a eleitor do PT, e quando ele deixa com que a voz de sua liberdade interior lhe grite aos ouvidos, tudo parece se resolver como deve ser resolvido, todavia, quando as coisas se encaminham para uma razão ainda mais profundamente pessoal, aí… aí é outra história.
Poucos filmes do gênero deixaram seus fãs e detratores em um estado de paranoia tão grande quanto Capitão América: Guerra Civil. As cenas de luta são tão bem coreografadas quanto verossímeis, com exceção do que diz respeito a certas habilidades especiais de alguns indivíduos; o ritmo do filme é devidamente acelerado e desacelerado para mesclar momentos de tensão com outros da mais pura ação; tanto as histórias de cada participante, como o decorrer de todos os acontecimentos que os envolvem, são muito bem alinhavadas durante todo o filme. Além disso, os apaixonados pelo universo Marvel podem conferir em primeira mão o que lhes aguarda com os filmes solos de mais dois de seus heróis que tiveram participação tão fantástica quanto decisiva em todo o filme: o Homem Aranha (Tom Holland) e o fantástico Pantera Negra, mas ninguém rouba mais a cena, em meu humilde ponto de vista, do que o Homem-Formiga (Paul Rudd) que se mostrará um herói bem maior do que aparenta… e isso não é uma metáfora, façam valer as suas liberdades pessoais e, assim como Steve Rogers, tenham coragem para se exprimirem com pessoas que ainda tem seus pés numa realidade concreta… O resto é conversa mole pra comunista dormir. A propósito, quando me perguntarem por que eu não gosto do PT e seus semelhantes, vou mandar-lhes assistir ao Capitão América, para me poupar de muitas explicações e esperar que eles vejam o quão frágeis certas ideologias são diante da realidade; tão frágeis que até um “homem comum” pode colocar heróis um contra o outro… Quem viver verá”.
Melhor livro

Silvério prossegue: “O melhor livro de 2016, para mim, vem da região de Feira de Santana, mais precisamente de Conceição de Jacuípe (Berimbau), e pertence ao poeta Patrice de Moraes, dono de uma poesia que sempre se quer cinética, que rompe com os limites da impressão simplória e alça à consubstanciação da mais pura e didática alegoria, ou seja, uma poesia que substitui o abstrato pelo aparentemente concreto, ou, como melhor definiu Coleridge, citado por César Leal em seu Os cavaleiros de Júpiter, uma “transposição de noções abstratas para uma linguagem de cores”.
E é exatamente transformando a linguagem num caledoscópico imagético que Patrice nos brindou em 2016 com o livro Minha Bahia (Mondrongo, 2016). Patrice, que já publicou textos no Jornal Noite e Dia e Tribuna Feirense, ambos de Feira de Santana, homenageia seu Estado natal com força e elegância que só os grandes poetas podem fazer, mesclado formas e temas com precisão e lirismo: são sonetos, quadras, poemas livres… e até um poema concreto sob influência da virtuosa musicalidade latente na Bahia.
O livro é dividido em três partes: na primeira, Patrice nos apresenta poemas que, em seu conteúdo, caracterizam, de uma ou de outra forma, o seu estado: a influência da raça negra na formação da Bahia, sua culinária; os sotaques baianos; seus souvenirs (Do Bonfim, a fitinha); A segunda parte é formada por poemas dedicados a personalidades baianas (quase todas músicos, cantores e compositores por quem Patrice tem grande admiração, mas sobretudo por serem baianos que amam o seu estado e fazem questão de divulgar esse amor). A terceira e última parte é formada pelo poema que dá nome ao livro, Minha Bahia, onde são focados temas como a religiosidade, a superação de seus sofrimentos através da fé, a alegria diferenciada que o baiano possui, seu otimismo, sua musicalidade… Por fim, é um livro que se ultiliza de todos os recursos possíveis dentro da poesia, porque que possui um poeta com os mais diversos requisitos para fazê-lo, por isso mesmo, vale a pena conferir…”
MINHA BAHIA
POEMA XV
Sofrer…, mas ser da fé um puritano.
Sorrir inda que o sofrimento insista.
São esses os caminhos do otimista,
principalmente quando ele é baiano.
Viver feliz não é nenhum engano.
Sabemos que nem tudo é “terra à vista”!
Mas cada ritmo expressa uma conquista
que faz-nos liberar o lado ufano,
apimentado da baianidade
que nos tornou exemplo de saudade
no coração de quem sente a Bahia.
É o beijo de um amor que se quer ter,
reverenciando-o, e com ele assim viver
um estado em eterno estado de poesia!
Melhor disco
Mas como se não fosse o suficiente ser um poeta de talento excepcional mais do que comprovado, Patrice também é compositor, e, ao lançar seu livro Minha Bahia (Mondrongo, 2016), também preferiu complementá-lo, gravando um CD que, à maneira do que foi feito em seu livro, cuja característica mais evidente é a mescla de várias formas de composição, traz ritmos diversos, que vão do samba à axé music, passando pelo samba reggae e muito mais… O CD tem cinco canções: Minha Bahia, Cinco Letras, Amarei Berimbau, Oxente e Bahia Que, interpretadas pela cantora, e finalista do Festival Vozes da Terra, Uendsa Mariah.
Abre o CD a canção Minha Bahia, onde poeta deixa claro todo o orgulho que tem em ser baiano, além de citar “eventos” que caracterizam o estado, recitando, ao final, o soneto que compõe a XV parte do poema de seu livro Minha Bahia. Cinco Letras nos mostra como surgiu seu amor pela Bahia. Amarei Berimbau deixa mais do que claro a paixão que tem por sua cidade natal. A quarta canção chama-se Oxente, que leva a marca da descontração e da surpresa: um baiano que não come pimenta nem sai atrás do trio. Fecha o CD a canção Bahia Que… um samba de roda do recôncavo que trata de certas particularidades que a Bahia possui, inspirada no berço desse ritmo, Santo Amaro da Purificação.
Muitos puritanos torcerão o nariz para o fato de um poeta compor música popular e, ainda mais, uma música dançante como os ritmos da chamada axé music, mas quero lembrar a todos que as mãos de quem faz uma obra é que a moldam segundo sua mente, seus sentimentos e suas demais influências; se não é com 14 versos que todos farão um soneto, não é porque um poeta escolhe a música popular que necessariamente ele não possa devolver a música carnavalesca baiana, por exemplo, a qualidade literomusical que um dia ela possuiu, antes de se tornar o que se tornou.
Nívia Maria Vasconcellos (poetisa)

A poetisa e declamadora Nívia Maria Vasconcellos destacou o disco “Teresa Cristina canta Cartola” como referência em 2016: “assisti ao programa “Ensaio”, TV Cultura, em maio deste ano e me deparei com uma entrevista com Teresa Cristina, através da qual fiquei sabendo do disco “Teresa Cristina canta Cartola”, lançado inicialmente numa edição digital em janeiro deste ano, pela Uns Produções, desde então foi o disco que mais ouvi em 2016”. Nívia lembra que em breve Teresa se apresentará na Bahia: “agora ela está acompanhada por Caetano em uma turnê internacional intitulada ‘Caetano Veloso apresenta Teresa Cristina’. Em janeiro de 2017, eles estarão no Teatro Castro Alves (SSA-BA)”.
Na literatura, Nívia Maria escolheu duas obras: “Cantares de Arrumação”, org. Silvério Duque e “A Balada do Cárcere”, de Bruno Tolentino. “Escolhi a antologia ‘Cantares de Arrumação’, pela sua importância em trazer um panorama daquilo que seu organizador, Silvério Duque, chamou de ‘novíssima poesia de Feira de Santana e Região’, e pela iniciativa da editora Mondrongo em apostar em poetas e escritores baianos. Mas não tenho como deixar de citar também o ‘A Balada do Cárcere’, do controverso poeta Bruno Tolentino. Este ano, a editora Record colocou esse livro nas prateleiras 20 anos depois de sua primeira edição. O novo ‘A Balada do Cárcere’ é uma versão comentada que coloca poemas como ‘O espírito da letra’, ‘O monstrengo’ e ‘O espectro da rosa’ novamente em circulação”.
Por fim, a indicação cinematográfica de Nívia Maria Vasconcellos: “Janis: Little Girl Blue”, de Amy Berg. “Escolhi um documentário, porque nenhum dos filmes de ficção que assisti este ano me impactou tanto. Apesar de achar que, enquanto produto cinematográfico em si, foi um documentário pragmático, o que o faz em alguns momentos ser um tanto monótono, não me arrependi de ter assistido ‘Janis: Little Girl Blue’. Gostei dele não só porque coloca em evidência um ícone feminino mundial que merece ter seu trabalho conhecido pelas novas gerações, mas também porque o documentário apresenta um conteúdo riquíssimo, recheado por performances, fotografias, vídeos e cartas, alguns materiais até então inéditos. Gostei também da abordagem escolhida, para mim foi uma sacada e tanto terem focado mais na simbiose vida/música de Janis e dado um tratamento de raspão ao episódio de sua morte, sem espetacularizá-la. Trocando em miúdos, enquanto a forma não me disse muita coisa, o conteúdo transbordou”.
Uyatã Rayra (músico e produtor cultural)

(Leia aqui a primeira parte e a segunda parte dessa série!)